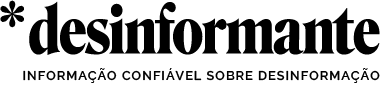A desinformação e a crise climática estão entre os principais riscos globais da próxima década, segundo o Relatório de Riscos Globais 2025, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. Embora tratados separadamente no levantamento, especialistas alertam para a crescente sobreposição entre esses dois fatores: a propagação de informações falsas sobre mudanças climáticas têm dificultado a adoção de políticas públicas, atrasado ações de mitigação e enfraquecido consensos científicos.
A coalizão Climate Action Against Disinformation (CAAD) explica que a desinformação climática envolve conteúdos enganosos que distorcem ou negam as evidências científicas sobre a crise climática, sua origem humana e a urgência de enfrentá-la.
As narrativas, segundo o CAAD, vão desde o questionamento da existência das mudanças climáticas até a promoção de falsas soluções. Isso acarreta no enfraquecimento da confiança pública na ciência, mina a credibilidade de especialistas e dificulta a adoção de políticas eficazes. Tudo isso em um tempo que é, como alerta o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, extremamente limitado.
O impacto é direto e imediato, como explica a pesquisadora em desinformação Jéssica Botelho: “A desinformação climática, estruturada por ações coordenadas e potencializada pelas redes sociais, contribui para atrasar a criação de soluções e políticas públicas, questiona a viabilidade e relevância das medidas de mitigação das mudanças climáticas e compromete a adesão da população a essas iniciativas”, explicou.
Países de todo o mundo e organizações internacionais veem na desinformação climática um dos principais entraves à resposta global diante da emergência ambiental. Em março de 2025, o governo brasileiro lançou a Rede de Parceiros pela Integridade da Informação Climática, uma iniciativa que reúne órgãos públicos, entidades da sociedade civil e organizações internacionais, como a ONU e a Unesco, com o objetivo de proteger o debate climático contra a desinformação.
Manifestações cotidianas da desinformação climática
A desinformação climática nem sempre se apresenta como negação explícita da existência do aquecimento global. No cotidiano, ela assume formas sutis, disfarçadas de argumentos que apelam ao “bom senso financeiro” ou à ideia de que certas práticas são “necessárias para manter a economia funcionando”. Um exemplo recorrente é o greenwashing — ou “maquiagem verde” — em campanhas publicitárias que promovem combustíveis fósseis como alternativas sustentáveis.
No Brasil, a própria Petrobras tem investido em peças que associam sua atuação à “transição energética”, ao mesmo tempo em que defende publicamente a exploração “até a última gota” de petróleo. A estratégia, segundo o guia da CAAD, busca suavizar a imagem da empresa, mesmo diante da urgência climática apontada por cientistas, e engana o público sobre os reais impactos de suas atividades.
Outro fenômeno apontado por cientistas é o uso de discursos de atraso, que relativizam a responsabilidade da ação climática. Esses discursos, segundo o CAAD, são comuns entre figuras públicas e setores do agronegócio, que frequentemente afirmam que o Brasil “já faz sua parte” no combate às mudanças climáticas, ignorando o avanço acelerado do desmatamento na Amazônia e a expansão da fronteira agrícola sobre biomas ameaçados.
Em 2023, conteúdos que negavam a relação entre as queimadas no Pantanal e ações humanas circularam amplamente nas redes sociais, inclusive impulsionados por influenciadores que negam o consenso científico. Segundo relatório da Global Witness, postagens com desinformação climática recebem até 8 vezes mais engajamento no Facebook do que conteúdos baseados em evidência.
Um exemplo também marcante foi citado por Giselli Cavalcanti, líder de campanhas do WWF-Brasil. Ela lembrou das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, quando, segundo ela, “enquanto dados científicos reforçavam a conexão entre o desmatamento da Amazônia e eventos extremos como as chuvas que atingiam o estado, o Congresso Nacional seguiu o caminho de ignorar a realidade e aprovar projetos devastadores para o clima, o meio ambiente, para comunidades tradicionais.”
Os conteúdos desinformativos não apenas distorcem o debate, mas também contribuem para uma cultura de inação. Nas redes sociais, narrativas que defendem que “nada pode ser feito” diante de catástrofes naturais ajudam a propagar a ideia de que as soluções estão fora do alcance da população comum ou que não valem o esforço.
O problema, como alerta o relatório do CAAD, é que essas mensagens se tornam barreiras invisíveis, corroendo a confiança em políticas públicas, desmobilizando a sociedade civil e dando espaço para a continuidade de práticas predatórias.
Em 2024, a subsecretária das Nações Unidas, Melissa Fleming, em passagem pelo Brasil, também pontuou o impacto que as informações falsas possuem para a mitigação das mudanças climáticas, pilar fundamental dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). “A desinformação é um risco para o progresso da humanidade”, afirmou Fleming.
Quem orquestra, impulsiona e se beneficia com a desinformação climática
A desinformação climática faz parte de uma engrenagem lucrativa, é o que apontam os estudos sobre o tema. De um lado, estão as grandes corporações de combustíveis fósseis, think-tanks conservadores, fundações privadas e até cientistas contrários ao consenso climático que alimentam o negacionismo como estratégia política e comercial. Do outro, as próprias plataformas digitais, que lucram com cada visualização, compartilhamento e clique gerado por conteúdos sensacionalistas e enganosos.
Segundo o relatório Clima Extremo, Conteúdo Extremo, apenas oito entidades ligadas à indústria fóssil investiram mais de 17,6 milhões de dólares em publicidade na Meta entre 2023 e 2024 — conteúdo que gerou mais de 700 milhões de impressões.
Parte dessas campanhas promove falsas soluções como “eficiência operacional” de petroleiras ou o uso do gás natural como energia “limpa”, disfarçando a continuidade de práticas altamente emissoras com greenwashing. Muitas dessas ações são conduzidas por grupos de fachada, como a Energy Citizens, que age como se fosse movimento espontâneo da sociedade civil, mas atua em prol dos interesses do setor fóssil.
Enquanto isso, as plataformas digitais seguem premiando com alcance e monetização os chamados “superespalhadores” de desinformação. Seus algoritmos, otimizados para o engajamento, tendem a favorecer conteúdos alarmistas e polarizadores – mesmo quando esses minam a ciência, desinformam a população e enfraquecem políticas públicas. Como mostra o CAAD, o combate à crise climática passa inevitavelmente por enfrentar essa lógica de lucro baseada na manipulação da informação.
Amazônia e as narrativas que silenciam
No Brasil, as consequência dessa lógica se manifestam com ainda mais força em territórios historicamente invisibilizados e a Amazônia é um dos exemplos mais contundentes. Com a proximidade da COP30, marcada para Belém, a região volta a ganhar destaque no debate climático global, mas ainda enfrenta desafios estruturais em relação à circulação e à qualidade da informação.
A Amazônia não é apenas palco de uma crise ambiental – é também território de uma disputa simbólica e informacional que atravessa séculos. Como aponta a pesquisadora Jéssica Botelho, a narrativa dominante sobre a região ainda carrega marcas históricas de exotismo e de uma lógica extrativista que a reduz a um “celeiro de riquezas” para o país.
Essa visão, aponta a pesquisadora, desumaniza os povos amazônidas e serve como justificativa recorrente para decisões políticas e econômicas que ignoram a complexidade social, cultural e ambiental do território. Nesse cenário, a desinformação ganha terreno fértil e vem sendo amplificada pelas redes sociais, por veículos de comunicação e até pela ausência deles — efeito direto do deserto de notícias que atinge grande parte do território.
Jéssica foi uma das responsáveis pelo mapeamento realizado em 2022 no projeto Amazonas: mentira tem preço, que identificou uma cobertura jornalística ambiental escassa e desconectada das necessidades locais. Dois anos depois, a situação permanece praticamente a mesma. “O ecossistema do jornalismo na Amazônia ainda carece de fortalecimento institucional, especialmente de financiamento a longo prazo”, afirma.
Segundo ela, embora existam iniciativas pontuais de cobertura qualificada, muitas vezes vindas de veículos especializados em meio ambiente, a maioria da imprensa regional com maior alcance continua distante tanto das pautas socioambientais quanto da realidade da população local. Essa desconexão, afirma a pesquisadora, também se reflete na preparação para a COP30: o evento ainda parece alheio à vida cotidiana da população amazônida.
Para Jéssica, a proliferação da desinformação não pode ser dissociada da falta de educação climática e da ausência de políticas públicas que enfrentem com seriedade os impactos da crise na região. “Vivenciamos eventos extremos todos os anos, como longos períodos de seca, e são escassas as ações estruturadas para mitigar esses efeitos”, ressalta.
Ela também chama atenção para o racismo ambiental e para a urgência de uma justiça climática que reconheça os territórios e os corpos historicamente marginalizados. Enquanto a exploração avança com o auxílio de tecnologias cada vez mais sofisticadas, a desinformação contribui para silenciar vozes locais e perpetuar um cenário de exclusão e vulnerabilidade.
Segundo Giselli, o WWF-Brasil enxerga a desinformação como uma inimiga direta da ação climática. Um exemplo disso é a falsa oposição entre floresta em pé e desenvolvimento econômico, que dificulta a valorização de iniciativas sustentáveis já em curso em comunidades locais e que poderiam ser ampliadas com o devido apoio estatal.
“Enquanto a desinformação impede ações reais, são as pessoas na linha de frente de combate à crise climática – povo indígenas, comunidades tradicionais, pessoas da periferia – as que continuam sendo as mais diretamente atingidas e com menor estrutura e investimento público para o enfrentamento. O atraso em decisões concretas no enfrentamento à crise climática as deixa cada vez mais vulnerabilizadas”, conclui Giselli.