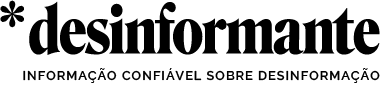E se uma fake news te fizesse perder o emprego, faltar à escola ou abrir mão de uma consulta médica? No Território do Bem, conjunto de comunidades periféricas em Vitória (ES), isso não é hipótese — é rotina. Uma pesquisa recém-lançada mostra que a desinformação, longe de ser só um problema virtual, tem consequências concretas e perversas em territórios historicamente marginalizados. Entre toques de recolher falsos e boatos sobre tiroteios, moradores deixam de sair de casa, interrompem a vida e enfrentam riscos reais.
Os dados do estudo, desenvolvido pelo CalangoLab, são contundentes: mais de 77% dos entrevistados já receberam algum tipo de desinformação e, em um a cada quatro casos, isso resultou em mudanças de comportamento. Como exemplifica o relatório, basta um boato para que uma criança deixe de ir à escola, um adulto não consiga sair para trabalhar ou uma família desista de uma consulta médica.
Situações que, em outros contextos, poderiam parecer pontuais ou contornáveis, nas periferias assumem caráter de urgência social. Em muitos casos, faltar à aula significa abrir mão da única refeição do dia. E perder um dia de trabalho representa, literalmente, a perda da renda diária — com impactos que se desdobram em dívidas, insegurança alimentar e risco real de desemprego.
Essas reações em cadeia foram enfatizadas pelo pesquisador David Nemer – um dos responsáveis pelo estudo – que destaca como os dados revelam a necessidade urgente de políticas públicas focadas em territórios vulnerabilizados. Para ele, é preciso reconhecer a desinformação como um problema estrutural, com efeitos diretos sobre o cotidiano. “As políticas públicas precisam ser desenvolvidas levando em consideração essas consequências da desinformação, que hoje faz parte do dia a dia das pessoas”, defende.
Conectados, mas vulneráveis
No Território do Bem, estar online é comum. A maioria dos moradores usa a internet quase todos os dias da semana e, para 36% deles, a conexão se estende por mais de 15 horas diárias. O celular é o dispositivo central, com 92,8% que acessam a internet pelo smartphone, e os aplicativos da Meta são os que dominam a rotina: WhatsApp, Instagram e Facebook estão entre os mais utilizados, tanto para comunicação quanto para consumo de notícias.
A TV ainda é a principal fonte de informação (77,9%), mas redes sociais como Instagram (51,9%) e WhatsApp (39,9%) ocupam posições de destaque, muitas vezes superando portais de notícias e jornais impressos.
Apesar disso, há uma contradição importante: 61% dizem confiar mais em veículos jornalísticos tradicionais do que em conteúdos compartilhados por amigos ou familiares — mas é justamente por essas redes pessoais que muitos se informam.
A frequência de checagem também preocupa: quase um quarto dos entrevistados afirma nunca verificar a veracidade de uma informação antes de compartilhá-la. Entre os que fazem algum tipo de verificação, muitos recorrem ao Google ou analisam se o conteúdo “faz sentido”, o que nem sempre é suficiente para barrar a propagação de notícias falsas.
Para o pesquisador David Nemer, esse cenário reflete duas camadas profundas de desigualdade no acesso à informação. A primeira é o chamado zero rating — prática adotada por operadoras de telefonia que permite o uso de certos aplicativos, como WhatsApp e Facebook, mesmo quando o pacote de dados do usuário está esgotado. Em tese, é vendido como uma forma de “inclusão digital”, mas na prática restringe o acesso à internet a ambientes controlados, limitados e, muitas vezes, altamente vulneráveis à desinformação.
“As pessoas consomem o título e o subtítulo das notícias que circulam nessas redes, mas não conseguem ir além. Isso é perigoso porque, se forem enviados links com desinformação, elas não terão como verificar a informação”, alerta.
O segundo problema, segundo Nemer, é que as informações que chegam pelo WhatsApp já passaram por uma curadoria prévia, muitas vezes feita com o objetivo de alimentar narrativas desinformativas. “É diferente de quando a pessoa busca a informação por conta própria e tem contato com diferentes veículos, versões e pontos de vista”, explica.
Mentiras que reforçam estigmas
O conteúdo das fake news que circulam no Território do Bem revela mais do que desinformação: revela quais medos são mobilizados e contra quem. Quando as notícias falsas dizem respeito ao próprio território, o foco recai sobre criminalidade (13,37%) e segurança pública (12,12%) — narrativas que reforçam estigmas antigos de que a periferia é sinônimo de violência.
Já quando as desinformações vêm de fora do território, o conteúdo muda: política (39,3%) e saúde, especialmente vacinas e COVID-19 (42,5%), aparecem como os temas mais recorrentes. A distinção mostra como a desinformação local atua de maneira ainda mais insidiosa: ao reproduzir e amplificar o medo, ela trava o cotidiano e fragiliza laços comunitários.
O relatório também desafia um estereótipo comum e injusto: o de que pessoas pobres seriam as principais responsáveis por disseminar desinformação por falta de acesso à educação. Ao contrário disso, a pesquisa mostra, segundo Nemer, que moradores do Território do Bem compartilham menos conteúdos falsos do que se costuma ver em dados nacionais voltados a classes mais altas.
A maioria esmagadora dos entrevistados (mais de 90%) reconhece, ainda, as redes sociais como canais de propagação de desinformação, o que revela, segundo o relatório, uma percepção crítica generalizada sobre o papel dessas plataformas na disseminação de conteúdos falsos. Apenas uma pequena parcela discordou ou afirmou não saber opinar, reforçando a necessidade urgente de responsabilização das redes e de ações de educação digital voltadas às comunidades.
Território que pesquisa a si mesmo

A pesquisa foi realizada entre fevereiro e abril de 2024 por 14 moradores do Território do Bem, capacitados como pesquisadores comunitários por meio do CalangoLab — laboratório sociotecnológico criado em parceria com o jornal comunitário Calango Notícias, a organização Ateliê de Ideias e os pesquisadores David Nemer, da Universidade da Virgínia e Mirella Bravo, da FAESA Centro Universitário.
Os questionários foram aplicados presencialmente, nas casas dos participantes e, ao todo, foram ouvidas 404 pessoas em nove bairros e comunidades da região, entre eles São Benedito, Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica, Jaburu, Floresta e Engenharia.