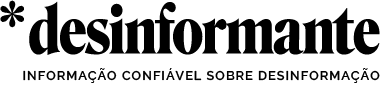Um menino de 10 anos foi deixado recentemente sozinho pela família num aeroporto de Barcelona, ao ser impedido de embarcar por estar com documentação inválida para a viagem internacional. A família, que iniciava uma viagem de férias, decidiu seguir mesmo sem ele, deixando-o desamparado no saguão à espera de um parente que ficou de buscá-lo. O plano, no entanto, não se concretizou, já que antes da decolagem, os pais foram retirados do avião pela polícia. Se pensarmos bem, milhões de crianças vivem algo semelhante todos os dias, não em aeroportos, mas nas redes sociais: abandonadas em espaços públicos online sem qualquer proteção real.
Rede social é como rua, praça, aeroporto, shopping center ou avenida lotada. Não é lugar para deixar a criança sozinha. E, na verdade, nem mesmo acompanhada, já que a idade mínima para criar um perfil na rede social é de 16 anos, conforme o Ministério da Justiça e Segurança Pública classificou este ano. Então, por que ainda assim seguimos vendo crianças conectadas?
Primeiro, temos que reconhecer que não há uma conscientização clara da sociedade sobre os riscos e malefícios de crianças e adolescentes nesse ambiente. Aparentemente as redes estão camufladas como um lugar de entretenimento e aprendizado inofensivos, em que pais e mães não veem maldade de seus filhos consumirem e postarem dentro dessa lógica algorítmica, seja para assistir a vídeos, jogar ou usar mídias sociais.
Segundo, porque apesar de termos mecanismos de proteção para esse grupo social, como é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ainda não estão adaptados para o meio online, e por isso as regras se afrouxam dentro dessa nova dinâmica do ecossistema digital. Terceiro, porque, embora os danos e efeitos negativos estejam cada vez mais evidenciados e debatidos, a presença e a exploração de crianças no ambiente digital continuam gerando significativos ganhos econômicos, de visibilidade e de influência. Esses benefícios não se restringem ao mercado, mas alcançam também famílias que encontram nesse hiato regulatório uma oportunidade de vantagem e lucro.
Toda criança nasce com o potencial ao seu modo de explorar o mundo e em todas as suas dimensões, mas a tela tende a reduzir essa experiência a uma única maneira de interação, mediada por uma interface 2D. Ao invés de ampliar a visão de mundo, ela limita: ora transformando a criança em objeto, quando é convertida no próprio produto, ora em sujeito passivo, quando atua como produtora e consumidora de conteúdo dentro dessa lógica. Nesse processo, há um apagamento de sua curiosidade e autonomia, justamente o oposto do que caracteriza Rudolf Steiner sobre a infância: “Se a criança é capaz de se entregar por inteiro ao mundo ao seu redor em sua brincadeira, então em sua vida adulta será capaz de se dedicar com confiança e força a serviço do mundo.”
Lembrando que, por trás das telas, há sempre um adulto que negligencia e/ou facilita esse processo. Como as crianças são de fato inocentes nessa equação, para cada criança vítima haverá pelo menos um adulto responsável culpado, quando não mais do que um, uma vez que ela sozinha não é capaz de comprar um celular, criar um perfil numa rede social ou produzir conteúdo de si mesma.
A última pesquisa TIC Kids Online, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2024 mostrou que, 72% das crianças e jovens entre 9 e 17 anos tinham a permissão dos responsáveis para usar redes sociais sozinhos, e 62% tinham a permissão dos responsáveis para postar na Internet fotos ou vídeos em que apareciam. São dados alarmantes, pois revelam o tamanho do grupo que já está vulnerável na Internet hoje.
Trocando as redes sociais por redes de apoio
“É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança.” Provérbio africano
A responsabilidade não é só do pai e da mãe, é coletiva. A criança representa a continuidade da humanidade. É ela quem carrega nossa herança civilizatória. Logo, o cuidado e a ação precisam vir de maneira plural. Quando pensamos em proteger efetivamente a criança no meio online, isso só faz sentido se acionarmos uma combinação de mecanismos e atores: conscientização de familiares, responsáveis e educadores; fortalecimento da educação midiática, digital e sexual, desenvolvimento de políticas públicas; regulamentação clara das plataformas; responsabilização de usuários, entre vários outros. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Marco Civil da Internet (lembrando da decisão recente do STF de que o Artigo 19 é parcialmente inconstitucional, o que já permite responsabilizar plataformas sem ordem judicial) e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). O PL 2628/2022 é, por sua vez, um avanço real nessa direção, pois foi elaborado especificamente para lidar com o ambiente digital no atual contexto e responsabiliza as plataformas na proteção de crianças e adolescentes.
O tema ganhou protagonismo quando o criador de conteúdo Felca publicou um dossiê sobre a adultização de crianças nas redes. O vídeo com dezenas de milhões de visualizações ultrapassou seu nicho, alcançando públicos que não o conheciam e chegou ao Congresso. O PL 2628 passou a ser discutido seriamente por políticos dos mais variados espectros, de esquerda à direita, tornando-se urgente o seu encaminhamento.
Outro impacto foi no monitoramento das denúncias: O disque 100, serviço do governo que recebe denúncias sobre abuso sexual infantil, bateu recorde histórico, registrando em apenas dois dias 53 denúncias, mais do que o dobro da média mensal do serviço, geralmente entre 15 e 20 registros. Assim, da noite para o dia, a questão de crianças e adolescentes na Internet, antes secundária mas já debatida por famílias, educadores e especialistas, se tornou inevitável. E escancarou os obstáculos: a monetização de influenciadores (muitas vezes os próprios pais), o lucro das plataformas e a impunidade.
Depois do Felca não dá mais para “desver”. A mobilização, antes fragmentada, ganhou força e coesão. Ou se encontra um caminho de controle e proteção às crianças e adolescentes na Internet, ou seremos coniventes com sua exploração e com os danos colaterais impostos pela lógica das telas. Felca mostrou a fragilidade de deixar as plataformas sem controle, pagando o preço com o lado mais negligenciado: a infância. E evidenciou que o que muitos delegam como um problema privado é, na verdade, uma questão coletiva e pública.
Da Galinha Pintadinha ao cyberbulling: Está tudo conectado
Infelizmente, a naturalização da presença da criança nas redes ocorre muito cedo. Desde pequenas, elas estão inseridas dentro da lógica de normalizar o uso das telas na infância. Expostas por longos períodos a conteúdos tidos como “infantis” e “próprios para a idade”, quando deveriam estar explorando sensorialmente o mundo ao seu redor, passam a ter uma relação com a infância predominantemente mediada por telas. Muitos adultos defendem essa prática afirmando que é “só um desenho inocente com cachorrinhos animados”, pois “olha como o bebê gosta, ele nem pisca”, ou reforçando que “já nasceu sabendo tocar os comandos da tela”.
Diversos estudos, porém, associam o uso excessivo de telas a distúrbios cognitivos, emocionais e comportamentais. Se o impacto já é sério e perceptível em adultos que se auto-observam, é ainda mais grave e imensurável no cérebro em formação de crianças e adolescentes. Sem exagero, estamos comprometendo uma geração inteira com efeitos que podem ser devastadores para o futuro da humanidade. Desenhos animados amplamente difundidos para esse público acabam funcionando como porta de entrada para essa dinâmica: produções pensadas para capturar a atenção de forma rasa, numa estética muitas vezes calculada para viciar o olhar do bebê, abrindo caminho para camadas cada vez mais problemáticas conforme a criança vai crescendo. É claro que isoladamente esses desenhos podem não representar um risco em si, mas precisam ser observados com cautela, considerando conteúdo, frequência e idade para esse consumo.
Nesse mesmo fluxo, tornam-se cada vez mais comuns conteúdos em que crianças aparecem performando dancinhas sexualizadas, encenando papéis de adultos (mesmo quando não diretamente sexuais, mas inadequados para sua idade), usadas como pano de fundo em memes ou expostas em situações de vulnerabilidade, como birras, choros e constrangimentos. Esses registros, que podem parecer inofensivos, alimentam a lógica do engajamento e da monetização, reforçando a exploração da infância como nicho de mercado. Em muitos casos, ainda evoluem para situações de exposição abusiva, como a ridicularização sistemática que abre espaço para o cyberbullying.
E não se pode justificar essa dinâmica pelo “consentimento” da criança, que pede para aparecer em vídeos ou fotos no Instagram. Justamente por não ter maturidade, ela não é capaz de decidir o que é melhor para si, da mesma forma que, se dependesse apenas de sua vontade, muitas se alimentariam apenas de doces, passariam o dia diante da tela ou não dormiriam antes da meia-noite. Os limites e contornos devem ser dados pelos adultos, e não definidos pelas crianças. No caso das redes, isso significa impedir o acesso e, sobretudo, resguardar a integridade física e emocional da criança, garantindo seu direito à privacidade, seja como usuária, seja como conteúdo. A fragilidade hoje é que ainda não contamos com uma regulação segura e aplicável que ofereça respaldo nessa proteção.
A adultização é, para além de associar a criança a um contexto sexualizado precoce, um descolamento da criança de sua infância, impondo contexto, repertório e pressão inadequados para a sua idade. Por isso pode ser mais sutil e muitas vezes encorajado, seja na cobrança por responsabilidades de adulto, na exigência de comportamentos mais maduros ou na abreviação da infância sob o argumento de que “é melhor já se acostumar com a realidade”. A adultização, sob o pretexto de ser um amadurecimento, promove uma completa inversão sobre o que realmente é bom para a criança: uma infância plena, livre e desconectada.
Portas digitais e a janela da infância
Sabemos que as redes sociais já possuem mecanismos sofisticados para compreender padrões e interesses dos usuários, a ponto de impressionar pelo quanto conhecem e direcionam recomendações e propagandas. Se elas são capazes disso, poderiam usar os mesmos dados, dentro de uma regulamentação efetiva, para proteger crianças e adolescentes da exploração online. Mas não o fazem. Porque falta regulação séria sobre proteção de dados e segurança digital, mecanismos consistentes de monitoramento e denúncia, responsabilização das plataformas. E, pior, percebemos que o lobby constante das big techs busca eximi-las dessa responsabilidade sempre que a pauta é sobre regulação.
Esperar dos pais uma consciência plena sobre como interagir com o meio online para proteger as crianças é, muitas vezes, uma expectativa irrealista. Muitos deles também não sabem o que consumir de forma crítica nem para si mesmos, pois há um vácuo no letramento digital e possuem poucas ferramentas para analisar conteúdos de forma criteriosa e lidar com a desinformação, por exemplo. O governo tem buscado ações, como o lançamento do “Crianças, Adolescentes e Telas: Guia sobre Uso de Dispositivos Digitais”, mas precisamos integrar essas iniciativas no contexto da população mais ampla, que estaria longe de alcançar isso sozinha.
Este ano, no Brasil, o ano letivo começou com a proibição do uso de celulares nas escolas, tanto nas aulas quanto nos intervalos. A nova legislação (Lei nº 15.100/2025) teve como base evidências de déficit de atenção, queda no rendimento escolar e aumento de transtornos de saúde mental, como ansiedade e depressão associados ao uso indiscriminado de celulares. Professores relataram maior concentração, participação e socialização dos estudantes após a implementação. É um passo importante para a escola exercer seu papel de espaço de construção, troca e aprendizado não mediado por telas.
Mas os desafios se apresentam principalmente no ambiente fora da escola. Entre adolescentes, crescem os riscos ligados a jogos e desafios online que incentivam práticas perigosas, além das relações sem supervisão construídas em chats e aplicativos, abertas a aliciamento e violência, incluindo cyberbullying. A vulnerabilidade nesse ambiente só reforça a urgência de uma resposta coletiva, em que a sociedade como um todo deve se comprometer e permanecer vigilante.
Se “a infância é um chão que pisamos a vida inteira”, como escreveu Lya Luft, já que a infância molda a forma como vivenciamos e entendemos o mundo a nossa volta, não podemos permitir que esse chão seja cimentado por telas e pixels orientados pelos modelos de negócio das big techs. O chão precisa ser feito de terra, plantado por mãozinhas livres para sentir e de corpo corajoso para agir. Porque o olhar amplo e novo da criança está ávido por enxergar um mundo melhor e belo. E sem esse olhar, sem uma infância livre e segura, feita de brincadeiras, sentidos, natureza e acolhimento, todos nós, e não apenas as crianças, ficaremos sem chão.