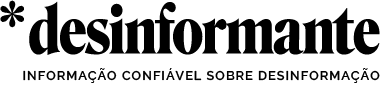Passada as eleições presidenciais, o Brasil vê-se diante de um cenário ainda menos previsível. Do lado das instituições, temos desde uma equipe de transição que deixa transparecer certa normalidade democrática até as Forças Armadas emitindo notas de caráter duvidoso: apoio às “manifestações populares” e clamando às autoridades da República a “imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população” (leia-se: questionar o pleito eleitoral).
Pois bem, quem define quais demandas são “legítimas”? E quem exatamente constitui “o povo”, de onde, segue a nota, emana o exercício do poder?
Em primeiro lugar, causa estranheza o tom da nota das FFAA, emitida após uma outra declaração com os resultados de uma análise interna das urnas eletrônicas, tendo agora como alvo o judiciário em tom semelhante ao presidente. Não se pode deixar de ver ali corrosões em nível institucional que não foram exceções no atual governo. As dissonâncias entre freios e contrapesos atestam que não há resposta unívoca para a questão do funcionamento institucional: algumas instituições podem estar funcionando, enquanto outras, não.
Mas há um lado do problema que não se deixa explicar em nível institucional. Isso justamente porque o metaverso brasileiro possui uma realidade própria aquém (ou além) do que se evidencia nas instituições. Tal tensão encontra eco em um Brasil paralelo que se radicalizou a ponto de se desprender da personalização do atual mandatário. O jogo é ambíguo: o eleitorado do candidato derrotado sente-se abandonado e impotente, sem ter a quem recorrer, restando-lhes chorar e rezar agarrados aos muros do quartel.
Explicações para a exclusão da diferença
Há algumas formas de situar esse tecido social que se contrapõe às instituições. João Cezar de Castro Rocha tem retomado o conceito de “dissonância cognitiva”, originalmente utilizado pelo psicólogo social norte-americano Leon Festinger, adicionando-lhe a qualificação de “coletiva”. Há ainda um amplo debate no campo da epistemologia social em torno de bolhas, câmaras de eco ou “bunkers epistêmicos” (expressão de Katherine Furman), que funcionam como zonas de conforto e proteção de grupos dentro de uma lógica de exclusão da diferença – tudo isso potencializado através dos novos aliados algorítmicos.
Eu tenho chamado esse fenômeno de narcisismo epistêmico, quando se assume uma posição refratária à revisão de crenças que acaba por minar o próprio debate público. É quando o que importa não é entender se minhas crenças encontram correspondência na realidade, mas que elas sejam validadas de maneira viciosa por um grupo com o qual já compartilho previamente de outras preferências. O que move é menos o conhecimento e mais o sentimento de pertencimento e autoestima. Em suma, vê-se aí a precedência de uma relação afetiva a uma teórico-cognitiva.
Voltar o foco então para afetos políticos permite compreender um emaranhado de sentimentos difusos que atravessam o ambiente de formação (e rejeição) de crenças. Em uma carta de 1927 a Sigmund Freud, Romain Rolland cunhou a frase “sentimento oceânico” enquanto um “sentimento primitivo do ego“. Em trabalhos como O Futuro de uma Ilusão (1927) e O Mal-estar na Civilização (1929), Freud elaborou o sentimento oceânico como um vestígio fragmentário de um tipo de consciência possuída por uma criança que ainda não se diferenciou de outras pessoas e coisas. Cruzamento semelhante entre dimensão psíquica e social encontramos depois nos estudos de Theodor Adorno sobre a personalidade autoritária.
Não se trata de patologizar tais expressões psíquicas, senão de observar os resquícios de um sentimento egóico, uma pulsão primária por reconhecimento, que se exprime agora sob a lógica de um pertencimento a um grupo que se autovalida narcisicamente como proprietários da verdade. Não são “loucos”, senão pessoas que, inclusive, como defendeu Neil Levy em “Bad Beliefs: Why They Happen to Good people?, expressam uma racionalidade própria. Por isso, Levy defende que o enfoque deve se voltar para “aprimorar o ambiente epistêmico (epistemic environment)” onde estamos inseridos.
O que temos visto não se reduz, portanto, à logica estrita de desinformação. Isso porque chegamos a um ponto que não se trata apenas de circulação de notícias falsas, mas da coexistência de realidades paralelas. Para além do fenômeno da pós-verdade ou de culto à personalidade, estamos diante de um sentimento mais difuso de pertencimento à massa, onde a própria distinção entre verdade e mentira deixa de fazer sentido. Como escreveu Arendt em “Verdade e política: “O resultado de uma substituição coerente e total da verdade dos fatos por mentiras não é passarem estas a ser aceitas como verdade, e a verdade ser difamada como mentira, porém, um processo de destruição do sentido mediante o qual nos orientamos no mundo real – incluindo-se entre os meios mentais para esse fim, a categoria de oposição entre verdade e falsidade”.
Afetos democráticos versus espectro antidemocrático
O que está em jogo não é, portanto, uma polarização afetiva, como se tratassem de dois extremos equidistantes. Ao invés disso, trata-se de um lado composto por afetos democráticos, que pertencem ao pluralismo de visões de mundo da democracia, e um outro espectro que é antidemocrático, ou seja, que constitui uma ameaça ao pluralismo. O princípio democrático é aquilo que Isaiah Berlin chamava da “inevitabilidade dos fins conflituosos”, ou seja, que não há nem deve haver solução final para visões plurais de mundo, a não ser afirmando o próprio conflito inerente a essa pluralidade. No espectro democrático, a diferença é constitutiva, compondo-se por adversários políticos. No antidemocrático, o adversário deve ser aniquilado, em um vocabulário que move a política para uma luta do bem contra o mal. Não são, portanto, dois polos simétricos só havendo um extremo: o antidemocrático, que ameaça todo o resto.
É este espírito iliberal e antidemocrático que está por trás da rejeição do resultado das urnas. Chega a ser curioso que um influencer bolsonarista como Rodrigo Constantino chegue a indicar como leitura pós-eleição o clássico A Desobediência civil, de Henry David Thoreau. Esse é o tipo de risco de uma espécie de desobediência de ocasião, que não permite encontrar critérios em si mesmos critérios de legitimidade. São esses critérios de justiça que permitem distinguir o oportunismo iliberal de Constantino de quando Martin Luther King evocava as práticas de desobediência civil não-violenta diante da segregação racial que vigorava como lei.
Diante então da circulação das paixões políticas, instituições respondem como anticorpos, que devem balizar a legitimidade do conflito democrático, das divergências da esfera pública e da mídia, balizados pelo próprio pluralismo democrático. E isso não significa dizer que são perfeitas ou que sempre “funcionam”. Apontar suas falhas pertencem também ao jogo institucional. A distinção, aqui, entre formas de afetos democráticos significa reconhecer uma régua mínima que não coloque em xeque o próprio pluralismo.
A questão é: como sair do circulo vicioso antidemocrático e fazer circular afetos democráticos? Tenho proposto que formar afetos democráticos é uma via de mão dupla: tanto a democracia depende dos modos de sermos afetados, como a ampliação desse vocabulário depende do fortalecimento do pluralismo democrático. Significa reconhecer que o adversário político não é inimigo, que a diferença não é algo a ser aniquilada, que numa democracia não existe luta do bem contra o mal tampouco super-heróis, nem nada acima de todos. Sair desse buraco antidemocrático depende de fortalecer as maneiras como afetos possam voltar a circular democraticamente, desde práticas sociais até institucionais.
Diante do conflito entre visões de mundo, de impossibilidade de encontrar respostas automáticas sobre o que constitui o “povo” e suas “demandas legítimas”, a resposta mais segura, ponto de partida para as demais, é a de se respeitar o pleito eleitoral – quem a maioria do povo escolheu para governá-lo. O que temos visto crescendo no Brasil, no entanto, são faíscas diante de um tecido inflamável de afetos antidemocráticos.
No belo filme “Argentina, 1985”, vemos a emocionante narrativa de quando pela primeira vez na história um tribunal civil condenou uma ditadura militar. Por aqui não temos a história de um julgamento da ditadura para contar, e essa é uma das razões porque muitas outras histórias reais permanecem distante de nossa memória, invisíveis, no campo nebuloso onde não há verdades ou mentiras. Isso talvez explique porque ainda é difícil dizer, como no nosso país vizinho: “Nunca más!”