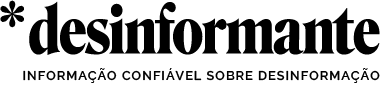Mês do Orgulho LGBTQIA+ e eu, como gosto de me definir – mulher negra e o B da sigla – fico mais atenta aos discursos que vamos vendo tomar corpo por aí. Assisti há alguns dias ao ótimo documentário Corpolítica, de Pedro Henrique França e Marco Pigossi, e que estreou este mês em todo o país. O filme acompanhou a trajetória e os desafios de algumas pessoas LGBTQIAP+ que se candidataram à vereança em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2020. Um período marcado por duas tragédias no Brasil: uma pandemia e um governo de extrema-direita, declaradamente LGBTfóbico, como se não bastassem as dificuldades naturais para uma pessoa pertencente a esses grupos acessar espaços de decisão e de poder.
O filme mostra não só a jornada política dessas pessoas, como também suas histórias pessoais e familiares costuradas pelo passado político de pessoas LGBTs nas Câmaras de Vereadores e Deputados. O roteiro mostra como a pauta LGBT foi usada como uma das principais estratégias bolsonaristas para chegar ao poder. Ora, sabemos que o Bolsonaro é antidemocrático por essência, mas foi a radicalização do discurso “pró-famílias” (as heterossexuais, obviamente) que fez com que ele ganhasse a confiança de uma grande fatia da população que, até 2018, não estava em disputa pelos partidos, principalmente, os de esquerda: a cristã evangélica.
No documentário entendemos de que forma, a partir dos embates com o então deputado federal Jean Wyllys (que renunciou e se autoexilou devido a ameaças de morte), Bolsonaro encontrou a grande sacada que o levaria até o mais alto cargo político da nação. Ele conseguiu convencer uma grande parcela da população de que pessoas LGBTs são pedófilas e querem ensinar criancinhas a fazer sexo através de cartilhas e mamadeiras em formato de pênis. E para atingir o feito, usou a máquina de fake news (dizem, a mesma usada por Trump nos EUA) para disparar notícias falsas massivamente por aplicativos de mensagens como Whatsapp e Telegram. De forma que, sem confiabilidade e checagem, elas facilmente se disseminaram e viraram verdades absolutas nos famosos grupos que ficaram conhecidos como “tios do zap”.
Campanha de 2018 teve 10 notícias falsas contra comunidade LGBTQIA+
O filme evidencia que durante a campanha presidencial de 2018 foram criadas dez notícias falsas contra a comunidade LGBTQIA+ e destaca algumas, tais como: “Jean Wyllys vai criar lei para obrigar casamento gay em igrejas”; “Fernando Haddad postou foto segurando um pênis de borracha”; “Fernando Haddad vai distribuir mamadeira erótica em creches brasileiras”; e “Manuela D’ávila usou camiseta com estampa ‘Jesus é Travesti’. Um ataque que foi determinante nos resultados, como pudemos testemunhar em seguida: um governo fascista eleito, marcado pela disseminação de mentiras e pela formação de uma população negacionista.
Neste mesmo ano, tristemente histórico, vivemos ainda o crime emblemático que tirou a vida da vereadora Marielle Franco, que se autodefinia como mulher lésbica, cria da Maré e uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro em 2016. Sua viúva, Mônica Benício, eleita vereadora no Rio em 2020, é uma das personagens do documentário. Outra mulher lésbica, que tomou para ela o compromisso de não deixar que a voz de Marielle fosse interrompida. E como vemos hoje, essa voz se multiplicou.
O filme foi gravado há três anos e, de lá pra cá, o número de mamadeiras de pênis distribuídas em creches foi zero, mas a quantidade de representações LGBTs na política duplicou. Segundo a ONG #VoteLGBT, em 2022, o país contou com 325 candidaturas, o que correspondeu a mais que o dobro de candidaturas LGBTs em relação a 2018. E entre esses nomes eleitos, está Erika Hilton, mais uma personagem do filme, primeira travesti a se tornar vereadora em SP e agora, em 2023, eleita deputada federal. Erika se elegeu nas últimas eleições no mesmo momento em que o país reelegeu Lula presidente, numa votação apertada, com a promessa de um governo mais preocupado com as pautas de grupos minorizados. Na 27ª Parada LGBTQIA+ de São Paulo, realizada no último domingo (11), Erika afirmou que está preparando o Brasil para sua primeira presidenta travesti. Alguém duvida? Eu não.
Mas, para além dos nossos sonhos, a realidade é que apesar de estarmos agora em um governo mais alinhado com as nossas demandas, não podemos perder de vista que quase metade da população continuou a favor de um projeto político LGBTfóbico. Metade não é maioria, mas ainda é bastante gente. E também é bastante gente que segue à mercê de uma indústria de fake news que não fechou com a derrota de Bolsonaro nas eleições. Ela continua a pleno vapor e – não nos enganemos – nenhuma conquista está resolvida e qualquer direito pode retroceder.
Para se ter uma ideia, em sua coluna do Uol essa semana, o jornalista e ativista Leonardo Sakamoto, falou sobre o principal argumento da direita radical contra o PL das Fake News – projeto de lei que propõe uma regulação para as plataformas digitais e que pode ser o início de um movimento de democratização da informação, impedindo, entre outras coisas, a dissipação de discursos de ódio. Sakamoto escreve que um dos argumentos contrários ao PL é o de que as postagens contra a população LGBTQIA+ seriam as mais frequentemente removidas. Ou seja, grupos extremistas lutam pelo direito à liberdade de serem intolerantes, enquanto ainda somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Segundo estudo do Grupo Gay da Bahia, que avalia notícias de homicídios nos meios de comunicação brasileiros há 43 anos, foram 256 mortes violentas somente em 2022, o que corresponde a cerca de uma morte a cada 34 horas.
No domingo, dia da Parada de SP – orgulhosamente, a maior do mundo – o governo federal fez uma postagem no Instagram com os seguintes dizeres: “Pessoas LGBTQIA+ existem e são importantes”, no que explicaram ser uma forma de celebrar a diversidade e o compromisso com a promoção de inclusão e com a valorização destes grupos. E a reação da maioria dos internautas foi negativa, como se a publicação estivesse segregando a população e dando mais importância a estes grupos do que a outros.
“O corpo LGBT nasce político”
Isso me remontou a uma das primeiras cenas do documentário. Andréa Bak, uma jovem candidata a vereadora do Rio de Janeiro, negra, bissexual e periférica fala algo simples, mas que justifica o nome do filme e talvez nossas existências, ainda que nem sempre organizadas: “o corpo LGBT nasce político”. Daqui, eu digo a vocês, enquanto mulher, mãe de uma adolescente, bissexual e me relacionando com uma mulher lésbica há três anos: corpolíticos somos, ainda que não estejamos em maioria – ainda – tomando as decisões que legislam nossa caminhada. Somos ainda corpos vistos como ameaça, desviantes e pecadores, ainda que estamos apenas cuidando de nossas vidas, nossas filhas e nossos amores.
Outro dia, em uma discussão num grupo de mães da escola da minha filha, um grupo que, vejam bem, foi criado para debater questões de diversidade na escola, tive que ler que lutar por igualdade não deveria ter a ver com discutir política. Que não tínhamos que “fazer militância na escola”. No que pensei “e quem é que, por livre e espontânea vontade, quer fazer militância?” Se pudesse escolher, eu também não iria querer discutir política, minha senhora. O que eu queria mesmo era só existir. Curtir meu final de semana, viajar com minha filha, andar de mãos dadas com minha namorada sem ser olhada com vigília, andar na rua sem medo de violência e estupro corretivo, não ser questionada sobre de quem das duas mães minhas enteadas são “filhas de verdade”, não ser acusada de roubo em uma viagem romântica quando todos os casais e famílias héteros são tratados com mimos, não ter medo de ser assassinada por amar do jeito que amo. Uma vida apolítica certamente me cairia muito bem. A quem a existência não é vista como ameaça, a política é tida como algo secundário. Sobrou pra nós sermos políticos. Na rua ou na Câmara. E até dentro das nossas casas. Corpolíticas, sem opção.