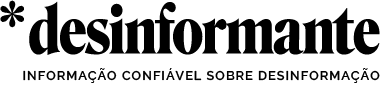Jornalismo partidário alimenta o diálogo pela diversidade de vozes
Ana Cristina Suzina
Para começar, precisamos entender que ser partidário tem dois sentidos. O primeiro é estar filiado a um partido e o segundo é associar-se a uma escola de pensamento. As duas podem coincidir, porque uma pessoa filiada a um partido, em geral, compartilha uma visão de mundo com seus pares. Porém, ter uma visão de mundo não requer, necessariamente filiar-se a um partido político.
Expandindo essa compreensão para a esfera midiática, podemos identificar mídias partidárias como o Boletim Informativo do Partido dos Trabalhadores ou a página do Partido da Social Democracia Brasileira, entre outros. Em resumo, essas são mídias, em qualquer plataforma, que representam a voz oficial de um partido e se assemelham a toda e qualquer iniciativa midiática que se apresente como institucional, quer dizer, que fala pelo partido, pela empresa, pelo movimento social ao qual está explicitamente vinculada. O público é, geralmente, formado por pessoas que têm interesse pela organização específica ou pela visão de mundo que ela expressa.
As mídias partidárias costumam ter objetivos muito específicos de manter a mobilização de suas bases, apresentar o mundo a partir de sua ótica, buscar novas adesões etc. Num país ou região em que o sistema midiático é precário, elas podem cumprir uma função importante em termos de acesso à informação. O Brasil e a América Latina têm muitos exemplos disso, graças a um cenário altamente concentrado de meios de comunicação, que forma, com frequência, os chamados “desertos informativos” – lugares onde não existe ou é rara a produção de informação local. Organizações como sindicatos ou a Igreja Católica – que têm visões de mundo bastante definidas – historicamente cobriram a lacuna informativa nessas regiões, desempenhando um papel fundamental na criação e manutenção de rádios, boletins informativos comunitários ou mesmo regionais.
Sendo assim, então, poderíamos simplesmente dizer que sim, mídias partidárias têm seu lugar e são importantes na construção de processos democráticos. Mas a resposta não pode parar por aqui.
Primeiro, a situação recém descrita não é ideal e não deveria, jamais, permanecer assim. É absolutamente problemático para a democracia que populações e territórios inteiros sejam abandonados e privados de produção informativa de qualidade. É absolutamente inadmissível que conluios políticos e econômicos predominem sobre o direito fundamental de produção e acesso à informação e à comunicação, dando lugar à concentração da propriedade, da penetração e do financiamento de empreendimentos midiáticos.
Essa situação fragiliza todo o sistema de comunicação. Em minha experiência, a maioria das iniciativas de mídia popular, alternativa e comunitária que conheci e analisei tinha um compromisso genuíno com a qualidade de vida em seus territórios de atuação. Mas mesmo elas terminam à mercê de atores poderosos. Não foram poucos os comunicadores populares que me contaram que pararam de produzir noticiário local por causa de ameaças contra suas vidas, simplesmente porque davam visibilidade a queixas da comunidade ou a crimes contra o meio ambiente, por exemplo.
Segundo, a questão do partidarismo precisa ser expandida para além de uma mera oposição entre mídias corporativas comerciais e mídias que declaram abertamente sua visão de mundo que, no contexto brasileiro, são muitas vezes ligadas ou financiadas por organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Essa distinção, historicamente, só tem servido para deslegitimar qualquer voz que se oponha à visão de mundo que guia o conjunto dos conglomerados brasileiros de mídia – estes são apresentados como neutros, em oposição a um dito partidarismo de qualquer outra iniciativa.
E, nisto, chegamos a um terceiro ponto fundamental, que é justamente a ideia de que um certo grupo de mídia pode ser “apartidário”. Evidentemente, as mídias que costumamos chamar de tradicionais ou “de massa” não estão diretamente vinculadas a um partido político. Porém, mesmo nestes casos, isso não quer dizer que empresas midiáticas não tenham ou não defendam visões de mundo específicas.
É muito comum confundir objetividade com neutralidade ideológica. A objetividade é um conceito que foi incorporado ao jornalismo nos anos 1920, exatamente pela necessidade de estabelecer uma metodologia para reduzir ou evitar o viés subjetivo, consciente e inconsciente, nas reportagens. É muito mais do que um jornalismo de “ouvir os dois lados”, pois envolve apuração, checagem detalhada, ponderação sobre o contexto das informações obtidas, entre outros aspectos do que se costuma chamar de “método jornalístico”.
Vale lembrar que apenas admitir o viés e assumir um caráter subjetivo não soluciona o problema. Empresas jornalísticas que se pretendem objetivas precisam admitir que o viés existe e seguir esse método, demonstrando seu compromisso com o relato dos fatos em seus devidos contextos. O crítico de mídia e professor de jornalismo, Tom Rosenstiel, fala de “transparência no método e disciplina de verificação”.
Finalmente, mídias partidárias continuam sendo relevantes num contexto de jornalismo de qualidade? A resposta continua sendo sim, com base na liberdade de expressão. Lutas sociais históricas se valeram de produções midiáticas para dar visibilidade a temas e conquistar direitos; crimes sociais e ambientais foram originalmente registrados por mídias comprometidas com visões de mundo progressistas; avanços na conquista da cidadania foram obtidos por participação em iniciativas midiáticas populares. Esta defesa, porém, precisa resgatar a perspectiva freireana do diálogo. Em sua Pedagogia do Oprimido (Paz e Terra, 2017), Paulo Freire distingue sectários de revolucionários, esclarecendo que “enquanto a sectarização é mítica, por isto alienante, a radicalização é crítica, por isto libertadora” (p.34). Tal como o jornalismo não-partidário precisa investir no método jornalístico como proteção contra o problema do viés consciente e inconsciente, o jornalismo partidário precisa se integrar à ecologia de mídias a partir da melhor contribuição que pode fazer, que é alimentar o diálogo pela diversidade de vozes.
Ana Cristina Suzina é jornalista, doutora em Ciências Políticas e Sociais, pesquisadora na Loughborough University London
Participe do debate. Envie seu comentário.
Mídias partidarizadas sempre tiveram um papel na democracia. Em geral, ruim
Andrei Netto
Na interminável “década perdida” da política brasileira, iniciada com as manifestações de 2013 e que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro, o retorno de um governo civil-militar e ascensão do baixo clero e da extrema direita ao poder em Brasília, um editorial de imprensa talvez encontre seu lugar nos livros de História. Em 8 de Outubro de 2018, o jornal O Estado de S.Paulo, o mais tradicional dos veículos de informação líderes no Brasil, publicou um texto de opinião que ainda circula nas redes sociais e no imaginário dos brasileiros.
“Uma escolha muito difícil”, como todo editorial, foi um texto não assinado que refletia a opinião do jornal, no caso específico sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, disputado entre Bolsonaro e Fernando Haddad. “De um lado, o direitista Jair Bolsonaro (PSL), o truculento apologista da ditadura militar; de outro, o esquerdista Fernando Haddad (PT), o preposto de um presidiário. Não será nada fácil para o eleitor decidir-se entre um e outro”, afirmava o texto.
O que a história registrará é um jornal cego diante da ameaça à democracia e à estabilidade das instituições representada por um deputado obscuro, egresso das Forças Armadas, que por décadas enaltecera o Regime Militar, elogiara a tortura e defendera a perseguição e morte de opositores. Afinal não se tratava apenas de um editorial, a opinião dos publishers de um veículo de informação. Tratava-se do reflexo de um “viés político” da instituição Estadão como um todo – embora não de seus repórteres, grupo do qual eu fazia parte, como correspondente internacional. Esse mesmo viés sobre as eleições estava presente na cobertura diária dos acontecimentos políticos, em favor de uma candidatura reacionária, contra a suposta “ameaça” representada pelo retorno do Partido dos Trabalhadores ao Palácio do Planalto.
“Partidarismo” é isso: viés político, ou o ênfase sistemática de um veículo de informação em um único ponto de vista ideológico ou doutrinário.
Logo, mídias partidarizadas têm, sim, um papel na democracia, não há dúvida alguma. Seu papel pode até ser positivo. A história registra exemplos de posturas partidárias bravias e transformadoras, como o emblemático Affaire Dreyfus, o caso de perseguição política de Estado a um capitão do Exército francês, Alfred Dreyfus, acusado de forma injusta de traição em razão de sua confissão religiosa. Foi graças ao trabalho de investigação, somado à tomada de posição frontal contra o Estado por parte de Émile Zola em seu editorial “J’accuse”, publicado no jornal L’Aurore em 13 de janeiro de 1898, que a prática de antissemitismo sistêmico no poder público francês acabou revelada ao mundo.
No Brasil, a cobertura realizada pelo site The Intercept Brasil no caso Vaza Jato é outro grande exemplo positivo de como o “partisan journalism” pode contribuir de forma positiva para sociedades democráticas.
Mas posição partidárias pontuais e pertinentes não podem esconder os excessos cotidianos e negativos do jornalismo partidário e suas implicações para a democracia. Por isso, a verdadeira questão deste artigo é: mídias partidarizadas são uma garantia de informação de qualidade?
A resposta é não. Não são garantia.
A história do jornalismo é farta, e se mistura à do partidarismo. A bem da verdade, a imprensa nasceu como instrumento de expressão de viés político. Tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, as duas regiões do planeta que praticam os melhores padrões éticos do jornalismo no Ocidente, o conceito de “objetividade” da informação só se estabeleceu a partir do movimento funcionalista nas universidades, que tentou limitar o impacto da experiência e das crenças pessoais nas ciências sociais – incluindo a comunicação e, logo, o jornalismo.
Os excessos do funcionalismo são conhecidos, e não cabe aqui enumerá-los. No jornalismo, eles se traduziram em uma visão reducionista simbolizada pelo banimento do “eu”, o repórter que fala em primeira pessoa, pela proscrição de adjetivos e pelo lead, ou lide, o primeiro parágrafo no qual estariam as respostas às questões de base de um fato: quem, fez o quê, onde, quando e como. Mas, por trás da caricatura do texto “sem adjetivos”, está um princípio crucial para a qualidade da informação: a utopia.
Há utopia na ideia de objetividade. Há uma missão – inalcançável, é verdade, daí utópica – que não deve ser deixada de lado: o compromisso de, por honestidade intelectual, buscar as múltiplas razões e interpretações de um fato.
O “por quê” de um acontecimento é a questão nevrálgica que todo jornalista profissional aprendeu, ou deveria ter aprendido, a buscar de forma independente. No “por quê” reside a busca da objetividade, o compromisso de se desvencilhar das crenças e ideologias pessoais, de seus partidarismos íntimos, em favor da missão de cada jornalista: a de informar sem preconceitos, sejam eles de classe, de raça, de gênero, de religião, de ideologia política ou econômica – ou o que for.
Nas diversas formas que a desinformação pode assumir, há algumas muito conhecidas: a proximidade excessiva com partidos políticos e o uso de reportagens em favor de anunciantes talvez sejam as mais denunciadas, e o “efeito manada”, o ato de reportar o que todos os demais veículos estão reportando, sem verificação, talvez a mais cometida. O sensacionalismo é outro ato de desinformação.
Dentre todos, três práticas que resultam em desinformação me preocupam ainda mais do que as demais por serem mais sutis. A primeira é o “false balance”, “falso equilíbrio” na tradução literal, que poderíamos chamar no Brasil de “outroladismo”. Trata-se da tendência de dar pesos e relevância semelhantes a assuntos de dimensões muito díspares. O melhor exemplo aqui é o já célebre artigo de Antonio Risério sobre o “racismo reverso” publicado por Folha de S.Paulo em 15 de janeiro, que reverbera teses de ultradireita reacionária, amparadas em eventuais atitudes pontuais e individuais que não espelham o comportamento de um grupo social, criando uma falsa equivalência ao “racismo estrutural”, esse, sim, concreto.
A segunda prática desinformacional que mais me preocupa é o “advocacy”, o apoio ou lobby mais ou menos dissimulado de informação a teses de organizações não-governamentais, sejam elas da natureza que tiverem. É com certeza menos problemático que jornalistas sejam simpatizantes das bandeiras humanistas da Anistia Internacional do que das práticas da National Rifle Association (NRA), o lobby armamentista americano. Ainda assim, cabe ao jornalismo e ao jornalista imbuído da utopia da objetividade a distância saudável da militância doutrinária, de forma a preservar sua independência na eventual denúncia de más práticas.
Por fim, há um terceiro “partidarismo” que me preocupa: o “viés corporativo” – o que os americanos chamam de “corporate bias” –, ou seja, a tendência de veículos de informação de mascarar em reportagens os interesses de seu próprio grupo corporativo ou de seus acionistas. Dessa prática decorrem no Brasil, por exemplo, o apoio a perdões de dívidas previdenciárias, ou “reformas” fiscais que beneficiam seus próprios interesses, ou de grupos elitistas e classes sociais abastadas, em detrimento dos interesses da sociedade.
Mas essa utopia, a do jornalista em sua missão – a busca constante do ideal da objetividade –, está fora de moda. Vivemos anos de crise na indústria da informação, marcada por grandes conglomerados de mídia que se desmantelaram diante da revolução digital, cedendo espaços às redes sociais. Nelas, além do mundo da fantasia egocêntrico, prospera a gritaria e a polarização política.
Prospera uma forma ainda mais negativa do partidarismo: a tomada do debate público pelo extremismo político, premiado por algoritmos que difundem conteúdos “que engajam” – uma espiral destrutiva do diálogo social, do Estado de Direito e da democracia.
Andrei Netto é jornalista, mestre em Comunicação (PUCRS) e doutor em Sociologia (Sorbonne). Foi correspondente internacional do jornal O Estado de S.Paulo em Paris, e é criador da plataforma de jornalismo independente Headline (headline.com.br), em fase de pré-lançamento.